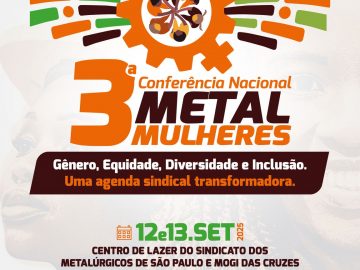20 mar 2009
Notícias

Por Cristian Klein e Cláudia Izique, para o Valor, do Rio e de São Paulo
Crises como a de agora, amplas e profundas, podem constituir cenário particularmente rico de dados para pesquisas sobre causas da criminalidade. A dimensão global da crise é relevante, porque permite fazer comparações empíricas nas quais fatores econômicos – variações nos números de emprego e distribuição de renda, por exemplo – se fundem com sua contrapartida social em ligas diferentes, localmente estabelecidas. Permanecerá, contudo, como limite para a afirmação de resultados de análises que se façam a esse respeito, aquela margem de imponderabilidade própria da busca de interpretações do comportamento humano, sejam quais forem a época e as condições que as particularizem.
Para o pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) Daniel Cerqueira, a recessão, ao obrigar o governo a fazer cortes no orçamento, pode afetar dois fatores importantes na prevenção da criminalidade: reduzirá a capacidade do Estado de impor um sistema de segurança eficiente e prejudicará programas sociais que melhorem as condições de vida das populações mais vulneráveis.
Cerqueira acredita também que o desemprego aumenta a taxa de criminalidade. Mas ressalva que, por causa da limitação de dados, os resultados de estudos a esse respeito são bastante díspares. Do mesmo modo que há quem sustente que a crise gera desempregados que, sem dinheiro e numa atitude de desespero, optam por praticar furtos ou roubos, por exemplo, há também quem indique uma relação inversa: quanto maior o contingente de desempregados – ou seja, de vítimas menos atraentes, que circulam pouco, que ficam mais tempo em casa -, menores seriam os estímulos e as oportunidades para a ação de ladrões.
Diante desse impasse, afirma o pesquisador, o fator que deve ser destacado como uma das principais causas da criminalidade – ao lado da eventual (in)capacidade de ação policial do Estado – é a desigualdade de renda. Cerqueira é autor de duas pesquisas sobre o assunto.
Na primeira, em que analisou as taxas de homicídio de São Paulo e Rio nos anos 80 e 90, Cerqueira observou que um aumento de 1% na desigualdade de renda tenderia a elevar as taxas de homicídio em 3% em São Paulo e em 5% no Rio, relações que lhe parecem estatisticamente significantes.
Num segundo estudo, em que utilizou dados socioeconômicos de todos os municípios brasileiros, Cerqueira verificou que um aumento nas condições de vulnerabilidade econômica acarreta maior probabilidade de ocorrência de homicídios. Os três principais fatores explicativos encontrados foram a desigualdade de renda, a proporção de jovens na população e a proximidade de municípios com altas taxas de homicídio.
“A desigualdade de renda é um combustível para a violência”, afirma Cerqueira. A dúvida, pondera, é se a atual crise econômica aumentará ou não as diferenças. A Organização Internacional do Trabalho (OIT) diz que sim. Na conclusão do relatório de uma ampla pesquisa sobre o tema, realizada em mais de 70 países e divulgada no fim do ano passado, a OIT afirmou que, no curto prazo, a crise poderá até reduzir a desigualdade de renda – ao derrubar o valor das ações e diminuir ou eliminar bônus e postos de trabalho no setor financeiro -, mas, no longo prazo, aumentará as disparidades: a massa de desempregados ampliará o fosso entre os estratos mais e menos remunerados da população. Com isso, alertou a agência da ONU, a crise, via aumento da desigualdade de renda, poderá causar uma série de problemas, como o crescimento da evasão escolar, da delinquência e da criminalidade.
Em São Paulo, a Secretaria de Segurança Pública do Estado se orienta por pesquisas próprias, consideradas de consistência suficiente para demonstrar que existe clara correlação entre a retração no mercado de trabalho e a ocorrência de roubos. “Cada 1% de aumento na taxa de desemprego corresponde a cerca de 4.700 novos registros de roubo no mesmo ano”, afirma Túlio Kahn, da Coordenadoria de Análise e Planejamento (CAP), que produz e interpreta estatísticas a esse respeito desde 2003.

Pesquisas mostram correlação entre desigualdade de renda e elevação da ocorrência de homicídios (na foto, a favela de Paraisópolis, uma das mais populosas da cidade de São Paulo).
Foto: Eduardo Knapp/Folha Imagem
Utilizando um modelo matemático específico, a CAP elabora mensalmente cenários com base em séries históricas dos indicadores de emprego da Fundação Seade e de roubos praticados ou tentados na região metropolitana de São Paulo. “Constatamos que quase a metade da variação encontrada na série histórica de roubos pode ser explicada pelas variações na taxa de desemprego”, diz Kahn. A correlação, sublinha, funciona de maneira anticíclica: os roubos crescem na razão inversa do emprego e essa variação independe da atuação da polícia.
Nos três últimos meses de 2008, por exemplo, quando a taxa de desemprego oscilou em torno de 12%, foram registradas, respectivamente, 16.814, 16.707 e 16.728 ocorrências de roubo, estatísticas que, ressalva Kahn, podem estar subestimadas pela greve da polícia, entre outubro e novembro. “De qualquer modo, além de prever o comportamento futuro da série ´roubos´ a partir de seu passado, é possível aperfeiçoar a previsão utilizando a taxa de desemprego como variável preditora.” A preocupação da Secretaria de Segurança com os indicadores atuais se justifica: “Se o desemprego chegar a 15%, o número mensal de roubos pode saltar para 18 mil”, estima Kahn.
A interferência de uma variável econômica nessa modalidade de crime limita a ação policial. “Não dá para colocar mais gente na rua”, afirma Khan. A atuação da polícia tem de ganhar um caráter “estratégico” e se traduzir em medidas de prevenção dos crimes de oportunidade, no aumento do número de procedimentos de revista a suspeitos – em busca de armas de fogo – e na intensificação do uso de tecnologia, como, por exemplo, a instalação de monitoramento por vídeo em áreas consideradas de risco.
Mais clara ainda parece ser a interdependência entre criminalidade e renda. Em outro estudo realizado pela CAP – que utilizou como “laboratório” o período seguinte à adoção dos planos Cruzado e Real -, Kahn constatou que as medidas econômicas que promovem o aumento da renda podem ter efeito positivo sobre os níveis de criminalidade relacionada ao patrimônio. A incidência de tentativas de furto, por exemplo, caiu no mesmo ano em que foram anunciados os dois planos e a de roubos, no ano seguinte. “O problema é que cada ciclo econômico joga no mundo do crime um contingente de pessoas que não retorna ao mercado de trabalho depois que a economia retoma seu ritmo de crescimento, o que explica o aumento do patamar de criminalidade após cada ciclo recessivo.”
Confirmados os cenários projetados pelo modelo matemático utilizado pela CAP, se inverteria em São Paulo a tendência de queda no índice de roubos em geral (-13,5%) e roubo (-60,25%) e furto de veículos (-43,5%), registrados entre 1999 e 2008. O número de furtos, que vinha em queda desde 2007, também poderá voltar a crescer.
Na literatura especializada, no entanto, a relação entre desemprego e criminalidade, estabelecida pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, é considerada polêmica. João Paulo de Resende, que em 2007 escreveu uma dissertação de mestrado sobre pobreza, desigualdade e criminalidade na Faculdade de Economia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), não encontrou correlação entre as duas variáveis. Trabalhando com informações de 225 municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes, ele constatou que a “experiência do crime” está, sim, relacionada à renda. “As cidades com maior concentração de renda, medida pelo Índice de Gini, também registram os maiores indicadores de crimes contra o patrimônio.”

Balões sobem em manifestação contra a violência no Rio: pesquisa da OIT indica que tanto a delinquência como a criminalidade devem crescer com o desemprego e a desigualdade.
Foto: Rafael Andrade/Folha Imagem
Kahn, no entanto, argumenta que, no Brasil, a falta de anteparo ao desemprego – como uma legislação trabalhista forte ou a possibilidade de o trabalhador manter um seguro privado, por exemplo – permite estabelecer a relação entre desemprego e crime. Além disso, há que se levar em conta as dimensões do mercado de trabalho informal no país, que acaba por criar uma faixa cinzenta entre a legalidade e a ilegalidade, na qual transitam trabalhadores que ele qualifica de criminosos eventuais. “As pesquisas demonstram que boa parte dos presos no sistema penitenciário paulista estava trabalhando quando cometeram o crime”, exemplifica. Na maior parte das vezes, trata-se de crime de oportunidade, como aqueles contra o patrimônio (furto, roubo etc.), que ocorrem, em geral, nas cidades de maior renda. “São Caetano do Sul tem o maior Índice de Desenvolvimento Humano do país e a maior taxa de furto do Estado”, observa.
Mas também há quem duvide da existência de forte influência da desigualdade de renda sobre o aumento no número de crimes. Na opinião do sociólogo e cientista político Gláucio Soares, ligado ao Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (Iuperj), não existe relação unívoca e clara entre a desigualdade de renda e os tipos de crimes sobre os quais há dados confiáveis – basicamente, furtos e roubos de veículos e homicídios.
Soares lembra que, depois do grande aumento verificado durante o regime militar, a desigualdade na distribuição de renda no Brasil, uma das maiores do mundo, quase não se alterou por 30 anos, até 2002. Mesmo assim, as taxas de homicídio nesse período subiram constantemente, de 1% a 2% por ano, o que seria uma evidência da fraca associação entre os dois fenômenos.
“Há uma relação multicausal quando falamos da violência. E gênero e raça são muito mais importantes que desigualdade para explicar as taxas de homicídio”, afirma Soares, que lançou no ano passado o livro “Não Matarás”, no qual analisa uma série de fatores que influenciam a ocorrência de homicídios.
Segundo o pesquisador, há os fatores de natureza individual (sexo, idade, estado civil, raça), macroestrutural (pobreza e desigualdade de renda), relacional (entre o homicida e sua vítima), facilitadora (presença de drogas, álcool, acesso a armas de fogo, envolvimento com tráfico) e preventiva (policiamento, iluminação, dureza das penas previstas, certeza de punição, religiosidade). Em um de seus estudos, Soares mostra que a taxa de assassinato para homens negros, solteiros e com idade entre 20 e 24 anos é 92 vezes maior que para o grupo de mulheres brancas casadas e com mais de 60 anos.
Esses dados indicariam que não há uma guerra de classes, nem de raças, em função da desigualdade de renda. Os pobres matam mais outros pobres do que ricos, e os negros matam mais outros negros que brancos. As respostas estariam em outros fatores, como disponibilidade de armas de fogo, presença do tráfico, ação da polícia e eficiência de políticas públicas inteligentes, como as realizadas em Nova York, em diversas cidades da Colômbia e no estado de São Paulo.
O antropólogo e cientista político Luiz Eduardo Soares também considera fundamental o tipo de política pública com que o problema é atacado. Ele afirma que as ações devem ter caráter focalizado, com efeito cirúrgico. Na cidade paulista de Diadema, cita Soares, houve drástica redução das taxas de violência a partir da restrição ao consumo de álcool. Mas esta não é uma regra universal, cada lugar teria suas particularidades. De todo modo, como procedimento-padrão, uma das iniciativas mais eficazes, de acordo com Soares, seria o monitoramento da vida familiar e escolar dos mais jovens.
“É necessário um foco obsessivo na evasão escolar, pois os jovens sem perspectivas, que se sentem desvalorizados, são os mais atraídos pelo crime. E, em regra, quando isso acontece, eles estão fora da escola. Precisamos de mais agilidade. A escola só comunica a evasão muito tempo depois que ela se deu”, afirma Soares, que realizou uma experiência bem-sucedida em 2001, recorda, ao zerar em seis meses as taxas de homicídio no bairro Restinga, de 150 mil habitantes, quando era secretário municipal de Prevenção à Violência, em Porto Alegre. Soares, que comandou a Secretaria Nacional de Segurança Pública, atualmente é secretário de Assistência Social e Prevenção da Violência do município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.
Sobre o impacto imediato da crise econômica no mundo do crime, Soares afirma que um exercício de especulação poderia ser feito imaginando-se como um traficante de drogas estaria observando a crise.”Se eu perguntasse a um traficante inteligente, que fosse uma espécie de economista ou sociólogo, ele provavelmente me diria: ´Em primeiro lugar, a crise aumenta minha possibilidade de recrutamento de força de trabalho, em razão do crescimento do desemprego e do exército de reserva de mão-de-obra. Em segundo lugar, tenho mais chance de vender meu produto, em função da degradação da autoestima, do clima de desespero e de desilusão e por que meu mercado tem certas peculiaridades: gera adesão, fideliza o consumidor pelas próprias características das substâncias psicoativas. Em todo caso, se eu quiser contornar os efeitos da crise, consigo reduzir o preço, sem diminuir minha margem de lucro. Posso abaixar o grau de pureza da cocaína, por exemplo, de 80% a 100%, ao sair da Colômbia, para até 15% ao chegar ao consumidor final.´ “
Para o sociólogo Sérgio Adorno, coordenador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, a crise econômica, de fato, é preocupante. Mas não é apropriado falar de violência ou criminalidade em geral. Para ele, o problema precisa ser bem delineado, para se buscarem as causas e possíveis soluções, cristalizadas em políticas públicas específicas. Há o tráfico de drogas, mas também o tráfico de órgãos e de seres humanos, o contrabando de armas, a pirataria, os crimes financeiros, a lavagem de dinheiro, que, por sua vez, são bem diferentes da violência doméstica, das brigas de vizinhos, entre casais ou nas escolas, e das disputas de masculinidade entre os jovens, enumera o pesquisador.
Entre as possíveis consequências da crise, Adorno afirma que ela poderá aumentar os bolsões de pobres e imigrantes, mais afetados pelo desemprego; as disputas entre grupos rivais de traficantes, caso haja uma restrição do mercado de drogas; e o circuito ilegal de mercadorias e dinheiro.
Há quem considere, aliás, que este último efeito negativo seja uma das principais fontes do aumento da criminalidade em tempos de recessão. É o que pensa o criminologista americano Rick Rosenfeld, da Universidade de Missouri. Ao rejeitar a ideia de que o crescimento da violência se dá em função do número de pessoas desempregadas que se tornam criminosas, ele afirma que os maiores responsáveis são os consumidores de baixo poder aquisitivo, que, afetados pela crise, passam a comprar cada vez mais no mercado informal, onde geralmente os produtos são usados, contrabandeados ou roubados. O consumo barato aqueceria o mercado negro, que depende de atividades criminosas e no qual qualquer disputa entre compradores e vendedores não são resolvidas pelos meios legais, mas sim pela violência.
Adorno lembra, contudo, que a literatura especializada sobre a relação entre ciclos econômicos e a evolução dos crimes violentos é muito controvertida, pois, enquanto certos estudos mostram que a crise acentua a criminalidade, outras pesquisas apontam que picos de prosperidade também o fazem. No que se refere ao crime organizado, Adorno tende a concordar com a segunda corrente e defende a hipótese de que as organizações criminosas seguem a rota da riqueza e não a da pobreza. Um exemplo desse movimento seria a propagação do tráfico pelo interior rico de São Paulo. Ou do recente aumento da violência em Macaé, município fluminense irrigado com os royalties do petróleo.
Mesmo assim, Adorno não descarta a importância das deficiências econômicas, como a pobreza e a desigualdade de renda. Mas ressalta que devem ser consideradas em seus cenários particulares.
“O fundamental não é a pobreza em si – basta ver que os municípios mais pobres do Brasil ou os países menos desenvolvidos do mundo não têm as taxas mais altas de criminalidade – mas sim a existência de pobres em certas circunstâncias. A pobreza no Vale do Jequitinhonha, em Minas, ou na região Norte não implica maior violência, mas nas regiões metropolitanas, sim. O contexto, os vínculos sociais não são iguais para todos os pobres. Isso faz diferença”, afirma o pesquisador da USP.
As nuances de cada localidade ou região, contudo, podem ficar menos evidentes quando uma crise de proporções gigantescas, como foi a Grande Depressão, nos anos 1930, derruba o poder aquisitivo da população como um todo. A criminalidade, nesse caso, pode encontrar causas e soluções em torno do problema específico da pobreza. Pesquisa publicada pelo National Bureau of Economic Research, dos Estados Unidos, por exemplo, mostrou em 2007 como os gastos sociais feitos pelo governo americano no New Deal contiveram a violência, dependendo de quanto foi investido, à época, nas diferentes regiões do país. O estudo apontou que um aumento de 10% nos gastos federais per capita representava uma queda de 5% a 10% nas taxas de criminalidade.
Sendo assim, já que o Estado brasileiro tem feito pesados investimentos em programas sociais como o Bolsa Família, seria possível imaginar que o país está mais bem preparado para enfrentar o impacto da crise sobre a criminalidade? O pesquisador do Ipea Daniel Cerqueira afirma que sim.
“Não tenho dúvida de que o Bolsa Família, que já vem desde o governo Fernando Henrique, tem um efeito positivo. O programa é um dos grandes responsáveis pela queda consistente na desigualdade de renda nos últimos anos. Seu efeito maior ainda virá a longo prazo, mas já contribui para que as famílias tenham o mínimo para a sobrevivência, que as crianças e jovens estudem na escola e que os pais abandonem menos os lares. Isso ajuda a deter a violência”, diz.

Passeata contra o desemprego em São Paulo: levantamento sistemático da Secretaria de Segurança Pública mostra que existe correlação entre retração no mercado de trabalho e ocorrência de roubos.
Foto: Moacyr Lopes Jr/Folha Imagem

Sindicato mobilizará trabalhadores pelo reajuste e conquistas da Convenção Coletiva
28 ago 2020

Vídeo Fala Povo
10 ago 2012
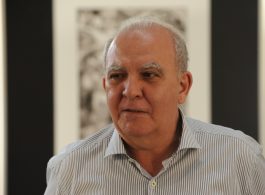
Miguel Torres recebe alta hospitalar
05 dez 2025

CNTM realiza Assembleia do Conselho de Representantes
03 dez 2025